“A arte tem o poder de libertação. É dentro dela que as pessoas têm a oportunidade de se expressar, de colocar pra fora o que são e o que estão sentindo”. É assim que a professora de dança
Agda Ramos, mais conhecida como Guida Ramos, caracteriza o potencial transformador do ofício na vida dela.
Guida começou a dançar na creche, quando uma academia do bairro iniciou um projeto social que levava arte para dentro do jardim de infância. Daquela época até hoje, aos 29 anos, ela nunca se afastou do fazer artístico.

Agda Ramos enxerga a dança como uma oportunidade de resgate de uma realidade vulnerável - Foto: Rafael Sena
Maíra Baldaia, também teve seu primeiro contato com a música e o teatro na infância. Natural de Itabira, aos 4 anos, foi convidada para gravar um disco com um compositor da cidade. Na ocasião pisou, não só no estúdio, mas também no palco.
Nunca houve uma separação entre Maíra e a produção artística. "Sempre estive ligada à música e ao teatro, de forma muito profunda. Com 12 anos, eu já tinha um grupo profissional de teatro. Então, desde sempre, soube que era isso que eu queria. Eu convivia com artistas e já entendia que aquilo era uma profissão”, explica, hoje, aos 30 anos.

Maíra Baldaia vê na arte uma ferramenta
de luta - Foto: Vanessa Barcelos
Tanto Agda quanto Maíra integram grupos artísticos independentes. Guida é professora no projeto Anjos D’Rua que atende mais de 400 pessoas, oferecendo formação e profissionalização em dança gratuitamente. “O Anjos D'Rua surgiu na minha vida em um momento muito difícil. Eu estava bem desmotivada por questões pessoais. Vi pela Internet que estavam abertas as inscrições e decidi participar”, conta.
Agda, que está há cinco anos no projeto, iniciou como aluna do professor Wesley Ribeiro, mais conhecido como Negão, um dos idealizadores do Anjos D'Rua. “O Anjos não é uma escola padrão onde a pessoa vai só para ter aula de dança, se formar e pronto. Ele atende também as outras necessidades. As necessidades sociais”, elogia. Segundo ela, várias pessoas com problemas familiares e de autoestima encontram nele um meio de transformação.

Segundo a psicóloga Isabela Lizandro, graduada pela PUC Betim, muitas pessoas encontram escape na arte para suas angústias. “A arte é a forma mais genuína de ser você mesmo e de expressar a magnitude de ser único. Muitas vezes é o único canal que dá voz às minorias na nossa sociedade”, opina.
Ela destaca, contudo, que é necessário enxergar o ser humano além dos rótulos. Segundo a psicóloga, o senso comum espera que todo negro seja bom no samba e dance bem e que todo gay tenha talento descomunal na moda e na maquiagem, por exemplo.
Por sua vez, Maíra Baldaia veio morar na capital aos 16 anos. Ela queria expandir o leque artístico e começou fazendo teatro e um curso superior em cinema. Hoje ela participa do coletivo Imune - Instante da Música Negra.
O objetivo do Coletivo é reunir, ao longo do ano, nomes de artistas negros da nova geração da música mineira. Uma pergunta norteia as ações do grupo: “quais são os instantes que a música produzida por negros ocupa os palcos e meios de comunicação em Minas Gerais?”.

Maíra enxerga, na arte, uma ferramenta de luta. “Eu não consigo separar a minha vivência artística da minha vivência como pessoa. Eu sou mulher, sou negra e integro a comunidade LGBT, então isso tudo está na minha música”, explica. Ela diz ainda que o olhar feminino e feminista, assim como os estudos e pesquisas que ela faz são refletidos em suas produções.
Euclides Guimarães Neto, conhecido como Kika, é sociólogo e professor de história da arte na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Ele considera Belo Horizonte uma cidade acima da média quando se se fala de produção artística.
Segundo Kika, isso tem tradição. “Belo Horizonte foi uma cidade fundada por uma migração que envolveu muitos estudantes e jovens em uma época que a literatura era a principal fonte de informação. A capital pegou um pouco desse traquejo de ser uma cidade com uma cena cultural desde o início”, afirma.

O sociólogo explica que a efervescência cultural da capital, no início, era ligada à literatura. Logo depois, na década de 30, veio a era do rádio. A partir daí, outras formas de arte, como o teatro e a música, foram agregadas ao circuito cultural intenso da cidade.
O professor destaca, também, que a formação do belorizontino médio está muito associada à combinação de um lado provinciano, das influências dos interiores de Minas, e de um lado cosmopolita, ligado à modernidade cultuada na época da fundação da cidade.
As pessoas que vêm do interior para a capital, segundo ele, já estão dispostas a participar dessa cena, seja como ouvintes ou atuantes.
Juliana Amorim é jornalista historiadora e tem uma relação íntima com a arte. Além de estudar o tema, trabalhou no Instituto Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo.
A historiadora considera que a arte é parte essencial na formação do ser humano e tem opiniões fortes sobre o apoio governamental para produção artística. Confira o primeiro Mixtura Podcast gravado com a presença dela.
As diversas artes visuais
Sylvia Triginelli ingressou na faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aos 17 anos. A princípio, ela não sabia muito bem o que fazer. Apesar de pintar desde cedo, a faculdade trouxe inúmeras outras possibilidades.
Lá, começou a trabalhar com gravuras. Uma técnica complexa que exige muito tempo e paciência. Segundo ela, uma gravura simples demora, em média, três meses para ser produzida.

Para Syl, fazer parte de uma minoria e estar na cena cultural de Belo Horizonte já é muito significativo - Foto: Vanessa Barcelos
A saúde e sofrimento mental são temas recorrentes nas gravuras de Syl. “Como minhas questões de ser Sylvia têm essa luta contra a depressão, a ansiedade, o borderline, a esquizofrenia, enfim, contra todos os problemas psiquiátricos e psicológicos, eu agreguei isso ao meu trabalho e comecei a pesquisar mais sobre quem sou e sobre quem as pessoas foram”, explica.
Foi assim que nasceu o trabalho “Colônias de Fel”, série de gravuras e recortes de jornal sobre os manicômios de Barbacena. “A divulgação disso muda a cabeça das pessoas. Ler um jornal é uma coisa. Ler uma imagem feita sobre a notícia do jornal é outra”, diz.
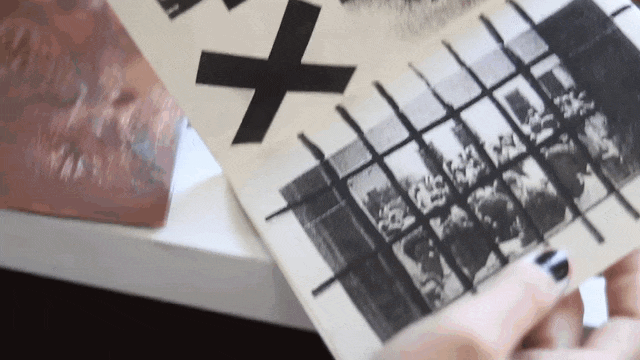
O zine "Colônias de Fel" reúne várias gravuras e recortes de jornais sobre os sanatórios de Barbacena
Ronald Nascimento também é artista visual. Aos 33 anos, além de grafitar e ser arte-educador na rede municipal de ensino, ele tem um estúdio fotográfico no Beco do Noronha, no bairro São Lucas. Ronald diz que não comprou sua primeira câmera para ser fotógrafo. A intenção dele era, na verdade, fotografar os grafites que fazia na rua.
“Um dia eu estava fotografando um dos meus grafites e uma mulher passou e perguntou se eu era fotógrafo. Olhei bem e falei ‘sou’. Ela me perguntou se eu fazia ensaios fotográficos de criança e eu disse que sim. Então voltei para casa e fui estudar como fazer isso”, conta ele rindo da história que aconteceu há 8 anos.

Ronald Nascimento montou um estúdio de fotografia na
parte de cima da casa da tia - Foto: Vanessa Barcelos
O artista disse que esse foi o pontapé inicial para investir na profissão. “Acho que esse foi um dos melhores e mais significativos ensaios que fiz na minha vida. Assim que entreguei as fotos para essa moça, ela chorou me agradecendo e disse que aquela era a coisa mais linda que já tinha visto", conta.
Ronald decidiu criar um estúdio de fotografia dentro da favela onde mora. Segundo ele, a intenção é atender pessoas que acham que não podem entrar em um estúdio fotográfico por ser muito caro ou por não pertencerem àquele lugar.
Em seu trabalho, o artista tenta sempre traduzir a identidade da negritude. “Acho que não tem muita discussão sobre isso quando estamos dentro da realidade que queremos retratar. É uma questão de vivência mesmo”, diz. Ele conta que gosta de pintar pessoas que, de alguma forma, fizeram história.

Tanto Sylvia quanto Ronald acreditam que a arte tem um caráter elitista que deve ser combatido.
A gravurista destaca que, ainda que a faculdade onde estuda seja pública e que os alunos recebam auxílio para custeio de materiais, o ambiente é desigual.
“Você chega lá e vê pessoas que estudaram em escolas alfabetizadas na Waldorf, gente que estudou em Dubai e tem portfólio pronto, outros que já têm três graduações e estão fazendo artes visuais porque se descobriram como artistas recentemente”, conta Sylvia. Além disso, comenta que uma gravura custa, no mínimo, 100 reais, mas que não as vende a esse preço.

Ronald leciona oficinas de fotografia e grafite, para crianças entre oito e doze anos, no Programa Escola Integrada da Prefeitura de Belo Horizonte. “É uma iniciativa massa, mas eu acho que precisa ter uma 'peneirada' maior para coordenação do programa. Precisamos de pessoas da comunidade para alavancar isso”, explica.
O fotógrafo diz que tem o sonho de criar uma escola de fotografia para crianças dentro do aglomerado. Além disso, pretende fazer faculdade para adquirir mais conhecimentos e passá-los para as outras pessoas.
Dentro e fora dos museus
O museólogo Victor Louvisi, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), trabalha na Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte há nove anos. Ele considera que o acesso à cultura na capital se configura em bolhas.
“O carnaval conseguiu explodir um pouco dessa bolha, mas a gente vê que a cena cultural ainda é um pouco fechada”, comenta Victor. Ele diz, ainda, que há uma ampla programação gratuita na cidade, mas vê falhas de comunicação e, por isso, pouco aderência do público.
Além disso, o museólogo afirma que falta na população o sentimento de pertencimento aos equipamentos culturais. “Os museus da Fundação são todos de graça, mas a população ainda acha que são espaços elitistas. Há dificuldade em querer entrar, pois acham que é de alta cultura”, diz.
Outra questão levantada por Victor é a centralização desses espaços, que, em grande parte, estão concentrados dentro da Avenida do Contorno.

Segundo João Pontes, diretor de Políticas Culturais e Participação Social da Secretaria Municipal de Cultura, a centralização dos espaços tem um motivo: a regional Centro-sul é um importante território de convergência.
“O carnaval e a Virada Cultural são experiências que demonstram isso. São ocasiões que proporcionam que as pessoas se encontrem e se reúnam”, explica. João ressalta que a regional Pampulha também reúne vários equipamentos porque é uma área turística, de lazer e esporte.
Apesar disso, ele diz que a lógica deve combinar as duas coisas: proporcionar espaços de convergência e estar em diversos territórios. João afirma que há equipamentos culturais em todas as regionais, mas que eles não são bem distribuídos entre os 40 territórios de planejamento do município.
Apesar da concentração de equipamentos da regional Centro-sul, Ronald Nascimento argumenta que é preciso entender “que centro-sul é essa”. O artista, morador do Aglomerado da Serra, que fica na regional, alega que o território não é contemplado pela prefeitura. Ele afirma, ainda, que mesmo os espaços que conhece estão sucateados.
João destaca que enquanto a iniciativa privada avança, principalmente no âmbito da produção de informações sobre a prática cultural do cidadão, o poder público engatinha. “Na porta de cada museu tem um livro, no qual quem o visitou, escreve seu nome. No fim de um determinado período, alguém pega essa registro, conta e digitaliza”. Segundo ele, é esse processo limitado que serve como insumo para diagnosticar e planejar políticas públicas.
Resistência

Para Juhlia Santos a cultura precisa ser vista
como uma política pública - Foto: Rafael Sena
Juhlia Santos entende a arte como forma de ativismo e se auto rotula como artivista. Hoje, aos 36 anos, é atriz, performer, agitadora cultural e uma das representantes em Minas Gerais do Circuito de Artes Trans.
Na infância, Juhlia foi convidada a fazer parte do núcleo de teatro da igreja que frequentava. “Era uma galera muito foda que não se limitava aos recortes do cristianismo. Foi uma delícia a minha estada lá”, conta. O núcleo produzia por conta própria, sem uma estética definida e sem uma categorização do que era feito.
“As pessoas, às vezes, colocam a arte em um lugar muito distante. É tão mais simples e próximo do que muita gente imagina. Produzir arte é viver”, defende. Alguns anos mais tarde, Juhlia se distanciou das atividades da igreja e acabou se afastando do teatro também. Na juventude sua relação com as artes cênicas foi retomada quando ela ingressou no projeto Arena da Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte.
“Eu tive aulas com pessoas maravilhosas, foi um aprendizado muito grande e eu pude trocar conhecimentos com pessoas que sempre foram minhas referências”, conta.

Apesar de amar o projeto, Juhlia não concluiu os estudos lá. Segundo ela, suas inquietações pessoas iam muito além daquele espaço. “Em conversa com um amigo chegamos à conclusão que queríamos mais que aquilo. A gente não precisava de um curso para nos legitimar como artistas”, diz.
Durante muito tempo ela deixou de lado o fazer artístico, retornando apenas na vida adulta. Suas questões, como negra, eram externadas por meio de performances. À medida que ela se descobria como travesti, o tema da transgeneridade também aparecia em suas apresentações e experimentos cênicos.
Embora já fizesse performances no espaço público e participasse de peças teatrais, ela conta que não se sentia legitimada pelo público como profissional. Segundo a atriz, a legitimação veio quando ela acessou o palco integrando o elenco de Madame Satã do Grupo dos DEZ.
Rodrigo Jerônimo, o diretor da peça, a convidou para fazer parte do espetáculo depois que a atriz travesti Renata Carvalho, junto ao Coletivo T, escreveu uma carta aberta reivindicando o espaço de pessoas transgênero na arte.

Olegário Alfredo nasceu em Teófilo Otoni, cidade do interior de Minas Gerais, localizada a 195 km da Bahia. No maior estado da região Nordeste do Brasil, a literatura de cordel ocupa um espaço importante.
Segundo ele, os caminhoneiros que vinham de lá sempre chegavam em MG com um folheto de cordel na mão. Foi assim que Olegário conheceu a literatura. Hoje, aos 65 anos, ele é um dos maiores autores do estilo e tem mais de 100 títulos publicados.
O cordelista afirma que gosta de levar a cultura popular para favelas, escolas, universidades e cidades. Além de escritor, ele é mestre de capoeira, participa do congado e produz instrumentos musicais. “Essas coisas me divertem. São artes altamente inclusivas e que podem ser usadas como recursos paradidáticos em qualquer lugar”, defende.
“Eu procuro escrever sobre os temas de Minas Gerais. É um estado imenso, com tamanha diversidade cultural. Escrevo também sobre as lendas e ditos populares de BH, porque a gente tem que resgatar essa cultura e não deixá-la morrer”, conta.

Olegário Alfredo vê na literatura de cordel uma importante ferramenta para o resgate da cultura popular - Foto: Tainá Silveira
Na década de 1970, Olegário ingressou na faculdade de Letras, mas destaca que a academia deixou bastante a desejar. Segundo o artista, apesar da faculdade abordar diversos estilos literários, a cultura popular não foi pautada durante o curso.
Ele afirma, contudo, que o cenário mudou e hoje em dia o tema é mais abordado, principalmente na capital mineira. “Anos atrás a arte era mais elitizada. Embora sempre houvesse artistas populares, eles eram segregados. Hoje, com a persistência dos artistas, eles ocupam todos os espaços não se importando com a repressão”, afirma.

O escritor comenta que o momento político que atravessamos é de castração e, nesses períodos, principalmente, o artista tem vontade de se manifestar. “Tudo isso é extremamente importante, porque encoraja o povo e alegra a cidade. É um dever lutar pelos nossos ideais”, diz.
Um processo parecido aconteceu com Syl em 2018. Para seu projeto de fim de período, ela fotografou corpos gordos e fez pequenas intervenções com tinta sobre as cicatrizes e marcas corporais das modelos. Com o projeto já aprovado pelo orientador, no dia da exposição, as obras foram censuradas.
“Eu tinha 17 anos, estava no primeiro período e tive esse choque de realidade. A arte é isso: as pessoas não querem ver o que você está produzindo”, afirma. O caso foi pauta em vários jornais da capital e provocou muitas manifestações de alunos e professores da escola.
“As pessoas sentiram a minha dor e lutaram comigo. Sou uma pessoa dentro do padrão estético e no momento que me mandaram para tampar os corpos que fotografei, eu consegui me colocar no lugar de quem não é padrão”, conta.
Um olhar do poder público
Segundo João Pontes, a prefeitura resiste. Ele explica que no último ano houve vários recuos em políticas públicas a nível federal, mas ainda tem uma visão otimista no município.
“A gente segue fazendo os editais da lei de incentivo à cultura e prevemos uma ampliação de 10%. Isso em um cenário de recessão econômica em que todo o poder público está recuando na área da cultura”, afirma. Segundo João, avalia-se que, com a lei, cerca de cinco mil trabalhos diretos e indiretos são gerados, movimentando 20 milhões de reais por ano.
Apesar da visão do representante, Juhlia Santos relembra o episódio de censura que aconteceu esse ano na Virada Cultura. Na véspera da apresentação, o prefeito Alexandre Kalil suspendeu a apresentação da peça “Coroação da Nossa Senhora das Travestis”, da Academia TransLiterária. Além disso, Maíra Baldaia destaca que a ampliação dos editais veio depois de muita luta da classe artística.
Galeria de fotos
Um ambiente de diálogo
O que é arte em Belo Horizonte? Como se mostra e como a cidade se molda a ela? Esse é o ponto de partida do Mixtura, um projeto que surge como Trabalho de Conclusão de Curso, da turma de Jornalismo de 2019, do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH).
O objetivo do projeto é promover o diálogo sobre arte e diversidade na cena cultural da capital mineira. Para isso, propõe-se um jornalismo transmidiático, que utiliza de vários elementos e iniciativas para proporcionar ambientes de conversas, onde as diferentes opiniões são expostas, respeitadas e debatidas.
Com isso em mente, o Mixtura realizou, no dia 01/11, no UniBH - Buritis, uma roda de conversa entre universitários e artistas de Belo Horizonte. O evento contou com a participação de Juhlia Santos, Maíra Baldaia e Ronald Nascimento, que discutiram as dificuldades que pessoas negras e LGBTQIA+ têm na busca de espaço no meio artístico e de oportunidades para seguir na carreira.
Confira abaixo algumas fotos deste dia tão especial.







































